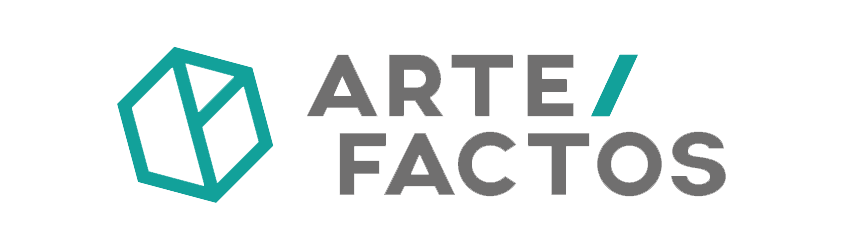Filmes que Celebram a Música
por Arte-Factos em 3 de Outubro, 2016

Até quando o cinema era mudo, a música representava um importante papel: exaltava emoções, definia personagens, alimentava a esperança. Algumas das mais memoráveis melodias surgem nas bandas sonoras, enchendo qualquer alma mais sensível de pele de galinha.
O glorioso impacto e significado das notas musicais em harmonia desperta igualmente curiosidade nos cineastas: através do seu olhar único sobre o mundo, abrem uma janela para a alma de artistas, períodos temporais, game changers e figuras épicas e irrepetíveis. Em tom de celebração do Dia Internacional da Música, partilhamos convosco algumas das nossas fitas favoritas quando a Música é o assunto.
Anvil! The Story of Anvil (Sacha Gervasi, 2008)– A escolha de Bruno Fernandes

Permitam-me chamar a atenção para um filme que quase ninguém conhece. Aliás, permitam-me chamar a atenção para uma banda que quase ninguém conhece. Anvil: é-vos familiar? Aposto que nem mesmo com aspas: “Anvil”. Não é um comprimido, apenas uma das bandas de metal preferidas de membros dos Metallica, Motorhead, Anthrax ou Slayer. Surgiu no mesmo boom do heavy metal que tornou todas estas bandas deusas entre mortais… e no entanto, mesmo estando sempre à beirinha de estourar, nunca rebentaram no estrelato. Quase trinta anos depois, não desistem do sonho e perseveram, esperando que o sucesso esteja ao virar da esquina. Assim parece em This is Spinal Tap (Rob Reiner, 1984): uma banda musical iludida com o sucesso, tournées orientais que acabam em desgraça, a namorada de um dos músicos é também agente da banda e o baterista (não é brincadeira) chama-se Robb Reiner. A diferença é que os Anvil são de facto bons e Reiner, com o seu irmão de outras mãos Steve “Lips” Kudlow, mantêm não só o metal a bombar, mas o sonho vivo. Este documentário é ridiculamente divertido e afirma também a esperança em doses iguais. Os Senhores das Trevas vêm trazer-nos a luz, em potentes guitarradas; e espero que por uma vez, saibam o nome da banda.
Amadeus (Miloš Forman, 1984) – A escolha de Edite Queiroz

Obra-prima da carreira do realizador checo Miloš Forman, Amadeus baseia-se na peça homónima de Peter Schaffer (responsável pela adaptação do argumento), um texto alegórico que examina o génio e excentricidade de Wolfgang Amadeus Mozart numa trama narrada pelo seu suposto rival, Antonio Salieri, compositor oficial da corte de Viena no final do séc. XVIII. Misturando ficção e realidade, o argumento adopta incontáveis liberdades no que respeita à exactidão dos factos históricos, oferecendo no entanto uma visão extravagante da personalidade de Mozart não muito diferente dos relatos dos historiadores. Mozart era excepcional, mas seria também um indivíduo imaturo e superficial, imprudente com as finanças e com uma relação ambivalente com um pai repressivo.
O traço mais brilhante de Amadeus não é, no entanto, a personagem de Mozart (protagonizada por Tom Hulce), mas antes a do seu opositor – Salieri, um homem devoto e casto, mas pleno de afectos contraditórios, atormentado pela tristeza e decepção, que se julga negligenciado por um Deus injusto e amoral que lhe concede a graça de reconhecer a genialidade da criação musical mas lhe nega a capacidade de a executar, obrigando-o a aceitar a sua “mediocridade”. Ainda assim, um homem bom, cujos pérfidos sentimentos se redimem numa paixão: Quando Mozart lhe dita as notas do seu Requiem no seu leito de morte, a inveja de Salieri é vencida pelo amor à música enquanto milagre de Deus. A risada de Tom Hulce no papel de Mozart é um marco na memória do cinema, mas quem arrebatou a estatueta pelo seu desempenho antológico no papel de Salieri, foi F. Murray Abraham, um actor com um percurso muito discreto que atinge aqui um feito que muitos não conseguem na carreira de uma vida: Ser inesquecível.
Pump up the Volume (Allan Moyle, 1990) – A escolha de Inês Cisneiros

You see, there’s nothing to do anymore. Everything decent’s been done. All the great themes have been used up. Turned into theme parks. So I don’t really find it exactly cheerful to be living in the middle of a totally, like, exhausted decade where there’s nothing to look forward to and no one to look up to.
Muito antes de Mr. Robot, Christian Slater foi um child-actor, já pós-bratpack e protagonista de um dos melhores filmes alguma vez feitos sobre a música e a angst adolescente no contexto da sociedade pós anos 80. Mark Hunter acabou de se mudar para um liceu novo onde o pai dá aulas. À noite, é através de uma radio pirata que Mark se exprime, utilizando efeitos sonoros improvisados com instrumentos domésticos, Sonic Youth, Beastie Boys, Peter Murphy, Soundgarden ou Pixies, abanando o corpo estudantil da escola. O filme começa com o fantasmagórico (no sentido de assombroso) Everybody Knows de Leonard Cohen, antecipando a denúncia do cinismo e hipocrisia da vida adulta e em sociedade desenvolvida no filme, e é a música que conduz e ilustra cada momento. Não é um filme de adolescentes normais: é pesado, profundo, libertador, sexy (grande Ivan Neville) e extremamente cool.
Singles (Cameron Crowe, 1992) – A escolha de João Pedro

É interessante que Singles permaneça ainda no esquecimento numa época que começa a olhar com uma certa obsessão para o início dos anos 90. Escrito e realizado por Cameron Crowe, cuja carreira desapareceu sem deixar rasto, é uma comédia romântica de domingo à tarde que usa como pano de fundo a cidade de Seattle durante o boom do grunge.
Replicando o esquema clássico das comédias românticas americanas, Singles aborda as vidas sentimentais dos jovens moradores de um condomínio de apartamentos. Uma das personagens centrais é Cliff Poncier (Matt Dillon), o vocalista de uma banda fictícia chamada Citizen Dick, cujos restantes membros são interpretados pelos elementos dos Pearl Jam. Há também um cameo de Chris Cornell numa sequência memorável e uma banda sonora que inclui nomes como Alice in Chains e Mudhoney. Quase 25 anos depois, vale a pena regressar a Singles. Não só pelas referências musicais mas também pelos muitos exemplos do melhor (e do pior) dos anos 90.
Stop Making Sense (Jonathan Demme, 1984) – A escolha de José Raposo

É um filme sobre um concerto, mas mal se vê e ouve o público. É um filme sobre uma das grandes e influentes bandas de sempre, os Talking Heads, mas no começo só está o David Byrne em palco. Em 1984 eram já enormes, mas o palco está despojado. Os Talking Heads eram quatro, mas a dada altura há nove pessoas a actuar. Em vez dos grandes planos quase hagiográficos dos músicos, há apenas luz no palco e corridas desenfreadas e uma das datas serviu apenas para planos de conjunto. Pouco apelativo? Confuso? Fixe, que é assim que os Talking Heads querem que vocês se sintam quando tudo começar.
A música dos Talking Heads não era convencional, a estrutura dos concertos deste documentário também não e, como tal, o título Stop Making Sense é apropriado. Temos os convidados Bernie Worrell (recentemente falecido) e Alex Weir a dar tudo nos sintetizadores e guitarra, toda a gente em calistenia palco fora e David Byrne com um fato cujo tamanho vai crescendo até chegar a algo semelhante a um fã de nu metal equipado com Fubu e Resina, a um zoot suit ou a uma personagem de teatro tradicional japonês. Um alinhamento com os clássicos da banda, uma boa dose de loucura e realização de qualidade por parte de Jonathan Demme. Em suma: vejam, que é clássico.
Jesus Christ Superstar (Norman Jewison, 1973) – A escolha de José Santiago

Jesus Christ Superstar é talvez a melhor adaptação ao cinema de uma peça de Andrew Lloyd Webber, não por ter músicas orelhudas (que as tem), não por ser visualmente cativante (que o é), mas pela opção arrojada de contar a mais famosa história bíblica com o distanciamento pragmático dos anos 1970. A guerra no Vietnam estava a acabar e os anos 1960 tinham sido um sonho com despertar violento, seria apenas normal que os velhos valores fossem revisitados com o mesmo desencanto. As letras de Tim Rice humanizam personagens divinas e malditas de forma igual, ao mesmo tempo que se vislumbra uma crítica aguçada à cultura de massas e do pensamento uníssono. Outro aspecto interessante deste filme é assumir que estamos perante um grupo de actores a representar os últimos dias de Jesus Cristo. Os adereços são modernos e pouco cuidados, são visíveis os remendos do guarda-roupa e os andaimes que constroem os cenários, vemos tanques de guerra e aviões a jacto, mas sentimos o peso dos acontecimentos e a entrega das interpretações sem pensar nesses elementos.
Este musical de Norman Jewison é um excelente exemplo de que um filme 100% cantado pode ser dinâmico, de que não tem de haver pausa narrativa para dar espaço às canções e de que um formato é ainda mais válido quando provido de contexto. Era injusto não mencionar as vozes assombrosas de Ted Neely e Carl Anderson e a restante carreira do apóstolo Pedro (Paul Thomas) que se tornou num dos mais prestigiados realizadores pornográficos nos Estados Unidos.
Straight Outta Compton (F. Gary Gray, 2015) – A escolha de Vera Brito

Anos 80, início da década de 90, Compton na Califórnia, assim como muitos outros bairros em Los Angeles, eram zonas problemáticas e desfavorecidas, onde armas, droga e crime estabeleciam as leis da sobrevivência, numa guerra aberta com a brutalidade da polícia, que não poupava ninguém mas premia o gatilho com facilidade sobre a comunidade afro-americana. Assim de repente, parece que acabámos de ligar a televisão e apanhámos mais uma notícia de uma morte mal explicada de um afro-americano a mãos das forças policiais. O que aprendeu a América em todos estes anos? Que o rastilho da mídia e das redes sociais pode ser algo muito mais difícil de controlar do que eram então as músicas incendiárias da “banda mais perigosa de sempre” – os N.W.A (Niggaz Wit Attitudes), que chegou a merecer atenções do F.B.I..
Straight Outta Compton leva-nos ao começo do gangsta rap, às suas rimas de rua, cruas, violentas e muitas vezes misóginas, com a banda que colocou Compton no mapa do hip hop americano e mais tarde à escala mundial, através de todos aqueles a que serviu de inspiração (quem passou pelo último SBSR tropeçou certamente em t-shirts de Compton na noite do rei Kendrick Lamar). Ice Cube, Dr. Dre e o já falecido Easy-E foram o núcleo dos N.W.A e é torno deles e de Jerry Heller (o seu produtor que também nos deixou recentemente interpretado pelo brilhante Paul Giamatti), que as duas horas e meia de filme discorrem. E discorrem a bom ritmo, sobretudo na primeira parte que nos dá conta da formação da banda até às intensas digressões pela América, com direito à polémica actuação em Detroit que os levou à prisão, por terem desafiado a polícia ao interpretar a meiga “Fuk Da Police”, numa das cenas mais vibrantes do filme que pelos relatos reais não terá tido contornos assim tão espectaculares. E é nesta tentação de dourar a pílula e de abordar levemente alguns temas mais incómodos, que Straight Outta Compton resvala. Não que os biopics tenham de forçosamente se colar à realidade, mas porque o endeusamento de algumas personagens (é importante lembrar que Ice Cube e Dr. Dre assinaram a produção) acaba por desacreditar um pouco aquilo que fez os N.W.A e gangsta rap relevantes – a sua autenticidade. Considerações à parte, é um filme obrigatório para qualquer melómano ou curioso da história do hip hop e da América.