//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
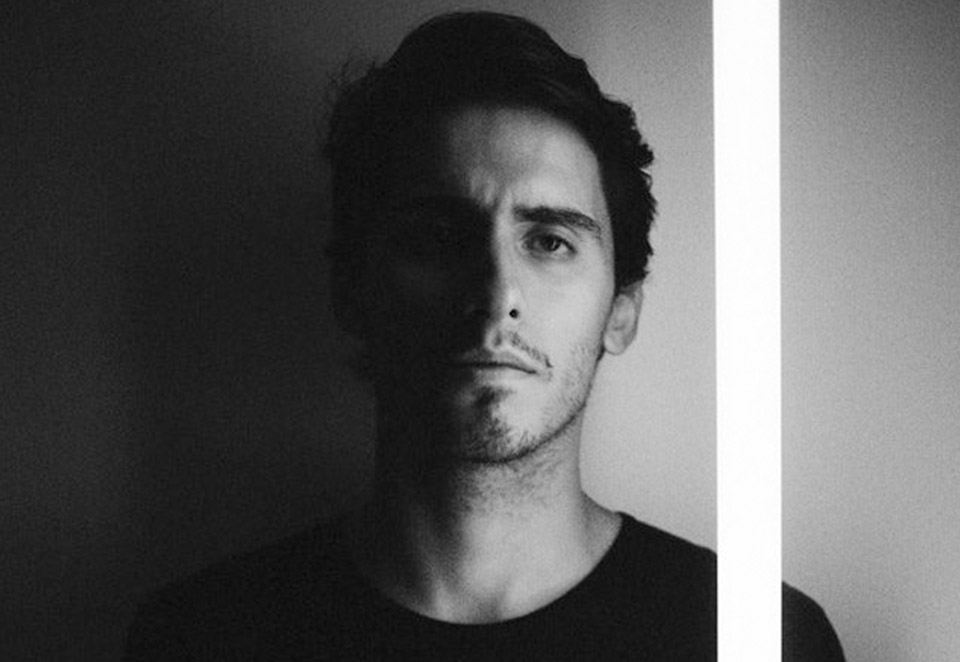
Ricardo Remédio é um nome sobejamente reconhecido pelo envolvimento em projectos musicais que marcam. Primeiro com os Löbo, depois como RA (aka Rei Abvtre) e agora em nome próprio. “Natureza Morta” é o título do álbum cuja saída está prometida para o próximo ano, sob o signo da Amplificasom. Para já, pode ir-se escutando o tema “Suor Nocturno” no Soundcloud. Os concertos de apresentação do disco estão aí, sendo que já está assegurada a sua presença no último dia do festival Jameson Urban Routes, no Musicbox, em Lisboa. Porém, foi no Porto que a primeira de várias datas teve lugar, e foi depois da actuação no Café Au Lait que a nossa conversa decorreu.
O teu primeiro projecto fora dos Löbo denominava-se RA (aka Rei Abvtre). De onde é que veio a necessidade de abandonar essa designação e optares simplesmente por Ricardo Remédio?
Para ser sincero, numa fase inicial, o catalisador para a mudança do nome veio de fora. Comecei a ver inúmeros projectos fora de Portugal com o mesmo nome e um dos maiores sites de música electrónica, o Resident Advisor, usar também o mesmo acrónimo. Tudo isso poderia ser um potencial obstáculo para tentar mostrar a minha música lá fora. Simultaneamente, tornava as pesquisas no Google pouco fáceis. Mais tarde, acabei por achar que, usando o meu nome, ficava também um pouco mais livre para experimentar coisas novas. Não estaria preso a uma estética de forma tão forte.
E tu, com essa decisão, não quiseste demonstrar assumidamente que pretendias algo mais para além do mercado nacional?
Ninguém faz música a pensar “deixa-me cá ficar no meu cantinho e está-se bem”. Até pode ter a ver com isso, mas também vinham muitas pessoas perguntar-me como é que chegavam à minha música na internet. Isto porque procuravam, procuravam e não encontravam. Portanto, mesmo que eu quisesse ficar só no meu cantinho, que é Portugal, essa não seria a melhor maneira de fazer as coisas, ser inacessível a esse ponto. E repara também numa coisa: tudo o que eu tenho feito até agora tem títulos em português. O próprio nome que eu agora uso é português. Nunca me quis chatear muito com isso. Mas é inegável que a minha música é um bocado anglo-saxónica, não tenho grandes influências portuguesas.
Até que ponto as composições do “Natureza Morta” reflectem aquilo que é a tua vida? Vês a música como um meio de exorcizar os teus demónios?
Respondendo logo à segunda parte da pergunta: sim, sem dúvida. A rotina do dia-a-dia pode devastar uma pessoa e sem este pequeno escape tudo fica mais difícil. E usando este desabafo como ponto de partida, toda a música que faço é pessoal e tem muito de mim. Mas também senti que no EP deitei demasiado cá para fora. Essa sensação de vulnerabilidade deixou-me desconfortável em certas alturas. Não quero com isto dizer que o “Natureza Morta” tenha menos de mim, mas deixei propositadamente as coisas mais opacas. De certa forma, é menos directo.

Consideras que o tocar a solo facilita a descoberta de sons secretos e a exploração de ambiências que poderiam estar escondidas?
Trabalhar a solo tem muitas vantagens e penso que ajuda um pouco a explorar esse tal mundo sonoro que existe dentro de cada um. Mas também há desvantagens. Por vezes, é complicado filtrar o que é exploração pessoal daquilo que é realmente interessante o suficiente para ser ouvido.
“O ‘Natureza Morta’ não procura simplesmente o ouvinte: alimenta-se dele”. Quer isto dizer que vais ter que abranger uma audiência maior para não passares fome?
Abranger uma audiência maior não é um objectivo. Mas caso um maior número de pessoas queira conhecer esta “Natureza Morta” elas serão mais que bem-vindas. E, no fim, música é também partilhar.
Como foi trabalhar com o Daniel O’Sullivan e com o James Plotkin? Quais foram as principais diferenças que notaste relativamente às outras pessoas com quem já trabalhaste?
Foi interessante e senti que evoluí como músico. Sempre acreditei que rodearmo-nos de pessoas mais talentosas que nós é uma óptima maneira para puxarmos por nós e aprender coisas novas. Foram ambos bastante simpáticos e é sempre bom ter o reconhecimento de pessoas que admiramos. Posso dizer que o toque do Daniel sente-se bastante no álbum e não há dúvida que ele trouxe uma musicalidade que não existia antes.
Qual tem sido o feedback relativamente àquilo que já se pode ouvir do teu novo trabalho?
O feedback tem sido bom, tanto das novas músicas como das músicas antigas que estou a tocar com uma nova “roupagem”. Aquilo que eu espero e desejo é mostrar que ainda estou cá, testar o material novo ao vivo e tentar divertir-me.
E o concerto de hoje foi bom nesse sentido?
Acho que foi bom, sim. Não fiz asneira, o som estava bom, as pessoas vieram ter comigo e disseram-me que tinham gostado. Eu já não tocava há muito tempo, não tocava há mais de um ano e foi muito fixe. Foi um bom começo e acho que ninguém saiu daqui defraudado.
Como é que abordas os teus temas ao vivo? Suponho que não estejas a jogar solitário como fazem, alegadamente, alguns membros dos Kraftwerk.
Hoje em dia, ser músico electrónico é algo ingrato. Parece que há necessidade de se justificar o que se está a fazer. Se calhar até há músicos que fazem isso. No meu caso, eu consigo compreender que quem não percebe muito do assunto não tem grandes possibilidades de entender o que se está ali a passar. Quando se acaba de gravar uma música tem-se os áudios todos separados. O que se passa ao vivo é que eu toco a estrutura da música e, ao mesmo tempo, tendo seleccionado linhas de teclado, retiro-as e toco-as em tempo real. Obviamente, eu não estou a tocar a batida, mas tenho os loops todos separados do que se está a passar. Eu é que decido se, e quando, uma determinada parte entra ou não entra.
Achas que consegues ter o público sintonizado a 100% naquilo que pretendes transmitir?
Vamos dizer que aquilo que eu faço está incluído num determinado género de música, seja ele qual for. Dentro desse género, eu acho que a música que faço é relativamente acessível. Ou seja, até podes não apanhar à primeira, mas não é nada que tu tenhas que estar extremamente concentrado a digerir e que tenhas de assimilar tudo muito lentamente. E não vejo isso como algo pejorativo, o facto de ser uma coisa que se assimila à primeira. Eu consigo ver mérito numa música que seja imediata. Não considero que quando se ouve algo à primeira e se gosta isso aconteça porque é comercial, ou seja lá o que for. Por outro lado, também não é pelo facto de a música que faço assentar em várias melodias de teclado que ela se torna meramente textural. Como tem muitas melodias, também acaba por ser mais acessível do que a música feita por outros artistas do mesmo género.
Mas como é o processo? Tu estruturas as tuas músicas seguindo um modelo pop?
Eu não estruturo as coisas do tipo ”isto vai ser assim, depois vai ter esta parte, mais esta parte e aquela parte”. Talvez eu tenha tido funções, em bandas passadas, que me fazem construir as músicas a partir de uma linha ou de uma melodia de teclado. Não penso numa estrutura pop. Estou a tentar evitar nomes, mas se pensarmos num Ben Frost vemos que o ponto de partida acaba por ser um ruído, uma textura, um ambiente qualquer.
Pensas vir a incluir, no futuro, algum tipo de vocalização nos teus temas, ou essa não é propriamente a tua praia?
Depende do que quiseres dizer com “vocalizado”. Comecei por fazer experiências com a minha voz, usando-a quase como um instrumento. Aliás, o tema “Suor Nocturno” mostra isso mesmo. Mas ainda não experimentei vocalizar realmente um tema. Não vou dizer “nunca”, mas, passados tantos anos a conceber a música como instrumental, isso é algo em que já nem penso muito.
Há algo no trabalho de músicos como o Trent Reznor, por exemplo, que, às vezes, só se entende com o distanciamento que o tempo nos oferece. Consegues encontrar semelhanças do que acabei de dizer naquilo que fazes?
O Trent Reznor é um óptimo exemplo. A música dele tem muitas camadas e tem coisas que só à terceira ou à quarta audição é que se apanham. No entanto, e ele é o melhor exemplo disso, também tem coisas que se apanham logo à primeira. O “The Downward Spiral” é um disco de referência no diz respeito à junção de sons extremos com uma enorme sensibilidade pop ali pelo meio. A produção do “The Downward Spiral” é fantástica, é um dos meus álbuns favoritos. Tem sons muito ásperos. Estou a lembrar-me da faixa de abertura, a “Mr. Self Destruct”. Depois existe uma “Closer” que, cantada por outro gajo, seria feita de encomenda para a MTV. Não estou a dizer que faço igual. Mas há semelhanças no que diz respeito a usar sons extremos e estruturas ruidosas, misturados com melodia.

É para ti uma preocupação saber se o ouvinte vai ficar indiferente, surpreendido ou deslumbrado com o teu trabalho?
Sim, claro que é uma preocupação. Penso que qualquer músico que diga o contrário está a mentir. Mas não é, nem pode ser, o ponto de partida na criação. Isso seria alienar o porquê de eu fazer música. Eu preciso de um escape, aliás, toda a gente precisa de um escape. Este é o escape que me serve, é o escape que me faz bem. Sem isto não sei o que faria. Ainda não arranjei outra coisa que me desse tanta satisfação. Mas é preciso ter em conta que isto é uma balança. Do outro lado do escape tu tens o tocar para 50 pessoas, ser mal pago e ter uma data de stresses. Hoje, por acaso, tive sorte. Consegui sair mais cedo do trabalho e vim para o Porto, que nem um maluco, pela auto-estrada. Enquanto as coisas valerem a pena está tudo bem. Agora, naquele dia em que deixar de haver equilíbrio na balança…
Disseste há uns tempos que gostarias de fazer uma banda sonora. Quais os realizadores de eleição para musicares um filme?
David Cronenberg, David Lynch, Ridley Scott. Acho que funcionaria bem algures entre o negro e o fantástico.
Não és o único músico a balançar entre a Lovers & Lollypops e a Amplificasom (e vice-versa). Para ti, quais são os pontos que tanto diferenciam estas editoras das demais?
Penso que as duas têm uma paixão notória pelo que fazem e admiro o trabalho tanto da Lovers & Lollypops como da Amplificasom. Acho que ambas conseguiram criar uma “cena” musical que não existia e tiveram tanto sucesso que já se misturam com a própria cena, sendo sinónimas da mesma. É uma honra trabalhar, e ter trabalhado, com todos eles.
Tu imaginas que, num futuro próximo, a maioria dos artistas vai conseguir viver única e exclusivamente da música, nem que para isso seja preciso recorrer a plataformas como o Kickstarter?
Pessoalmente, eu não me estou a ver a fazer isso. O Kickstarter tem coisas óptimas e podes usá-lo para fazer coisas muito boas. No entanto, no que toca ao lançamento de álbuns, penso que tem um efeito algo perverso. Isto porque retira ao músico o ónus de fazer música, invertendo um pouco a situação. Fica tudo um pouco atípico, do género “Querem que eu faça música? Então paguem-me!”. Não vou dizer que torna o músico preguiçoso, mas em vez de as pessoas recompensarem o teu trabalho, dá a sensação de que tu só trabalhas se as pessoas te derem o dinheiro. Não sei se me sinto 100% confortável com essa realidade. Eu não ando por aí a perguntar se me querem ouvir. Faço as coisas porque tenho que as fazer. Se depois me quiserem dar dinheiro por elas isso é perfeito.
Como te vês daqui por dez anos?
Uma característica dos gajos da minha geração é que somos pessoas com uma perspectiva a longo prazo praticamente inexistente. Pelo menos eu, só consigo pensar a curto e médio prazo. Daqui por dez anos gostava de estar vivo e a fazer música. Quanto ao resto, não sei. Neste momento, os meus planos são a dois anos, não são planos a dez. Tanto a nível pessoal, profissional e musical. Só espero estar vivo e bem de saúde, a partir daí… Quero fazer música até morrer.