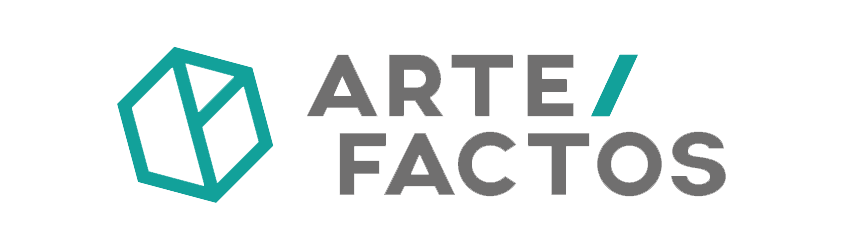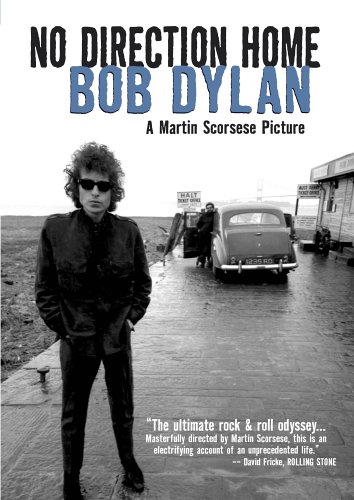Robert Allen Zimmerman, mais comummente Bob Dylan, comemorou no mês passado sete décadas e meia neste mundo. Entre o simbolismo da data e um ciclo a ele dedicado pela Cinemateca, escolheu-se recordar No Direction Home, de Martin Scorsese, datando de 2005; incluído na série American Masters da PBS (que inclui nomes tão díspares como Billie Holiday ou John Cassavetes), a ideia partiu do manager de Bob Dylan, Jeff Rosen. Cobre os primeiros seis anos de carreira de Dylan, incluindo a turbulenta digressão europeia de 1966, e é obra de cinéma verité – um salutar regresso ao passado como Il mio viaggio in Italia, de Scorsese, pedindo emprestado muito material de Dont [sic] Look Back (1967), o icónico documentário de D.A. Pennebaker sobre Bob Dylan.
Procura-se a verdade por entre horas de entrevistas ao próprio Dylan e a contemporâneos, como a antiga namorada (e parceira de capa de disco em The Freewheelin’ Bob Dylan) Suze Rotolo e músicos como Liam Clancy, Maria Muldaur, Mavis Staples, Pete Seeger e Al Kooper – ainda que faltem referências a Karen Dalton. Um dos aspectos notáveis do documentário é a ilustração das influências de Bob Dylan e da folk, com sequências de canções dos irlandeses irmãos Clancy com Tommy Makem, John Jacob Niles ou Odetta. É um documentário em que se pode dispensar as imagens e simplesmente ouvir, se se preferir.
No Direction Home está acertadamente dividido em duas partes. Na primeira, temos o desenvolvimento de Bob Dylan enquanto músico e personalidade artística e na segunda o advento da fase eléctrica, com toda a polémica que daí adveio. O começo com a guitarra e harmónica na mão, vontade de sair por aí e tocar canções próprias e de outrem, as baldas na Universidade do Minnesota e a chegada a Nova Iorque, onde, segundo Tony Glover, crítico musical e músico, lhe fizeram uma macumba, pois “tornou-se demasiado talentoso num espaço de tempo demasiado curto”. Em Greenwich Village torna-se um caldeirão cantante, meio caminho entre Pete Seeger e Woody Guthrie. Alguns concertos no café Gaslight, uma crítica extremamente favorável de Robert Shelton do New York Times e toca de assinar de cruz num contrato da Columbia, recrutado pelo lendário John Hammond. De caminho, ficamos a saber que o escritor James Baldwin também parava no Gaslight – aqui se vê a riqueza dos testemunhos.

Bob Dylan ainda idealista e acústico.
Um dos méritos de No Direction Home, fruto da excepcional montagem, é a constante contraposição entre conterrâneos de Dylan e as opiniões e recordações deste; de particular importância as sequências sobre a sua ascensão: desde o “roubo” de canções a Dave Van Ronk até às reminiscências de Liam Clancy (que em começos de sessentas andava, com os irmãos e Tommy Makem, a esgotar salas e a passear as Aran geansaí pelos EUA), todas elas são de relevo para a construção do mito Bob Dylan.
Parte desse mito é a inexperiência musical de Dylan antes de Nova Iorque. O testemunho de Izzy Young, proprietário do Folklore Center, é sintomático: Bob Dylan, o futuro grande vulto da música norte-americana, nunca tinha visto ninguém tocar banjo, tinha pouco ou nenhum calo musical (salvo quando tocou por Dinkytown, em Minneapolis) e inventou um percurso de vida que envolvia músicos de blues de Chicago cegos, convívios com Mance Lipscomb e viagens pelo rio Mississippi – criatividade não lhe faltava, pelo menos.

Pete Seeger, parente musical de Dylan na linha recta.
Bob Dylan não era nem é um santo; as suas veleidades e faro para aproveitar deixas de outros trouxeram-lhe a fama e o reconhecimento universais. Influenciado pelos beatniks e por Pete Seeger e Woody Guthrie, a partir deles construiu uma base que lhe possibilitou alguma visibilidade, para depois se dedicar a trilhar o próprio caminho, como se verá. Por detrás dos óculos escuros displicentes estava uma boa dose de cinismo, um manager ambicioso (Albert Grossman) e um círculo de gente influente, como Andy Warhol ou Allen Ginsberg.
No meio da altivez revela, contudo, clarividência: aquando do incidente no qual negou a partilha de palco com a namorada de então, Joan Baez, proclama que é impossível estar-se apaixonado e ser-se simultaneamente prudente. Tirada digna de registo e de difusão obrigatória.

Liam Clancy, num dos melhores testemunhos da obra.
Festival de folk de Newport, 1963. Eis a consagração do Bob Dylan de harmónica e guitarra acústica. Jogando entre grandes como Johnny Cash, Howlin’ Wolf e Pete Seeger, deu a mão a Joan Baez e entrou de rompante em palco, tocando várias vezes e, acompanhado de Baez, Seeger e outros, consagrou Blowin’ in the Wind como hino da música popular norte-americana – mais ainda, tornou-se um autêntico standard do cancioneiro de então, com versões de, entre outros, dos Peter, Paul and Mary e Marianne Faithfull.
Bob Dylan esteve no sítio certo, à hora e ano certos – sendo certo que o seu faro para oportunidades lhe granjeou a expansão da notoriedade, a História também o ajudou a colocar-se no centro. Desde a grande marcha pelos direitos civis em Washington, DC, até ao festival de Newport, 1963 (sem esquecer a relação com Joan Baez, que se tornou estrela antes de si) foi “O” ano para aquela fase de Dylan.
Na segunda parte, começa a revolução pessoal e artística de Bob Dylan, que tantos alienou. Os Estados Unidos mudaram (e de que maneira) no dia 8 de Março de 1965: os fuzileiros desembarcaram em Da Nang e deram início à fase operacional da intervenção norte-americana no Vietname e Bob Dylan atacou com Subterranean Homesick Blues, cujo arsenal contava com guitarra eléctrica e bateria, bem como uma letra que nada tinha a ver com o material anterior, em fluxo de consciência. Em toda a honestidade, para este escriba Subterranean será a primeira canção punk da História; preenche vários requisitos: dois minutos e pouco de duração, melodia simples, tempo acelerado, letra mordaz sobre os desterros da sociedade e as misérias da vida, com um toque de completa desordem e Bob Dylan um mestre-de-cerimónias petulante e gozão, um Johnny Rotten dos anos sessenta. Os versos curtos, disparados com uma cadência vertiginosa, reflectem a influência que Allen Ginsberg teve sobre Dylan – de tal modo que até é figurante no vídeo da canção, também ele inovador.

Três dos grandes: Bob Dylan, Pennebaker e Ginsberg.
Se os combates e emboscadas no Vietname se foram agudizando, na frente Dylan a conflitualidade também cresceu. As entrevistas tornaram-se cada vez mais abstrusas, Dylan cada vez mais críptico nas respostas e os assobios e apupos cada vez maiores nos concertos – o famoso grito de “JUDAS!!!!1” em Manchester, em 1966, fica registado em No Direction Home, ajudando à completude da obra.
A recusa em prosseguir com o irritante lugar-comum e epíteto de “Voz de uma Geração” confundiu ainda mais as pessoas, que ainda não tinham conseguido lidar com o fim das canções-tópico e ainda não percebiam a viragem eléctrica de Dylan. The Times They Were a-Changin’, de facto. Afinal, parecia que a terra dos chatos que não queriam mudanças não era a mesma de Dylan, para relembrar Woody Guthrie.
Desta vez, a recepção em Newport já não foi tão calorosa: se os concertos do outrora tímido Dylan tinham o intimismo de uma sala de estar com amigos, os periclitantes caminhos eléctricos valiam-lhe as primeiras vaias e Peter Yarrow queixa-se à câmara que a bateria das novas canções destruiu tudo e tornou Dylan num escravo do volume e do PA. Tão grande foi o choro dos chatíssimos puristas, mas felizmente que Dylan foi em frente, senão adormeceríamos todos com a crescente esclerose da folk tradicional.
Cobrindo apenas os primeiros seis anos de carreira de Bob Dylan, o documentário não abrange todas as outras fases, incluindo a de converso ao cristianismo, o pós-acidente de mota (o documentário termina aqui) e a obra com a The Band. Tal como em Dont Look Back, No Direction Home retrata um músico que sabe que é talentoso e que se tornou uma referência, mas que também se sente desconfortável com o assédio e incompreensão do público (leia-se meros mortais) e que tem um manager, Albert Grossman, a tentar retirar dele o maior rendimento possível. Também esta simbiose ajudou a carreira de Dylan, o problema foi o caminho que ela tomou: o da indecisão e de certa frustração. Vistas bem as coisas, o título da obra de Scorsese (e o verso da canção, claro está) é apropriado para a situação de Bob Dylan em 1966: sem rumo, ainda que confesse, a um repórter italiano, que só quer regressar a casa, que tem medo de ter um acidente de avião no Tennessee ou na Sicília (isto em inglês rima, prometo).

O Dylan eléctrico, alienado dos puristas.
A 29 de Julho de 1966 sofre um acidente de mota, sendo a real extensão das lesões uma incógnita. Certo é que serviram de base (ou desculpa) para um hiato ao vivo de oito anos, mas não de estúdio – o óptimo John Wesley Harding viria já em 1967. Também em 1966, os Beatles dariam o seu último concerto (excluindo o concerto de 1969 no terraço dos escritórios da sua editora, a Apple), no saudoso Candlestick Park – também fartos da pressão e da histeria, como Dylan. Não enchendo estádios como os Beatles, certo é que Dylan deixaria estarrecidos muitos adolescentes e jovens por esses EUA e Europa fora – alguns britânicos, bastante tontos por sinal, proclamam que aquele já nada lhes diz e pontapeiam-lhe o carro, ao mesmo tempo que lhe pedem autógrafos.
Isto andava tudo ligado, parafraseando Eduardo Guerra Carneiro.
Bob Dylan foi sempre ambicioso e hábil na construção da sua arte e da sua carreira. Teve sorte nas colaborações, que pessoas como Joan Baez e Al Kooper impulsionaram a sua carreira e a sua sonoridade, seja em Newport ou a criar em estúdio; mais ainda, ter apanhado o revivalismo folk após a asfixia dos anos do Macartismo foi outro enorme golpe de sorte para o seu talento – talento esse que se revelou na presciência de canções como A Hard Rain’s a-Gonna Fall.

Volume contra o atavismo.
Quis estar na linha da frente da luta política, actuando em grandes manifestações, mas afastou-se quando julgou recomendável (o hiato ao vivo de fins de sessentas acabaria por excluí-lo de Woodstock e afins, bem como da violência crescente nas ruas dos EUA). Reinventou-se e estabeleceu-se como entidade monolítica e fundamental da cultura norte-americana do século XX (influenciando grandes como Townes Van Zandt, de caminho), continuando, ao contrário de muitos contemporâneos, a ser relevante no século XXI – apesar de muitas das suas opções ao vivo deixarem a desejar, a grandeza de Dylan continua lá, tal como a sua Never Ending Tour. Triunfou e os maledicentes anti-electricidade são agora reformados imobilizados em sofás com rendas.
Nunca como um completo desconhecido nem como uma mera pedra rolante.