//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dezembro é já estabelecido como mês de Muvi – Festival Internacional de Música no Cinema, que este ano nos traz nova variedade de propostas. Um grande esforço da equipa num evento cada vez mais relevante e que é a combinação ideal dos melómanos. De entre estas, conta-se Enterrado na Loucura: Punk em Portugal 78-88 – A 2ª Vaga, sequela de A Um Passo Da Loucura: Punk em Portugal 78-88, exibido na edição do ano passado, por nós perdido mediante um conflito de horários. Este ano tivemos direito a documentário e a concerto da banda formada pelos co-autores, a Patrulha do Purgatório.
Novamente da autoria de Hugo Conim e Miguel Newton, figuras que construíram o punk nacional, em gerações diferentes – nos Mata-Ratos e nos Clockwork Boys, Legion of the Sadists e Savage City Outlaws, respectivamente. Depois da introdução dos três acordes em Portugal, segue-se agora a fase do amadurecimento e da construção (ou tentativa) de uma cena, já em oitentas. Passamos, pois, dos Faíscas e de Kalu para os Grito Final e Cães Vadios – o bicho sofisticava-se. Sob a égide de que “tudo isto é punk, nada disto é fado”, disseca-se o crescimento da coisa em Portugal.
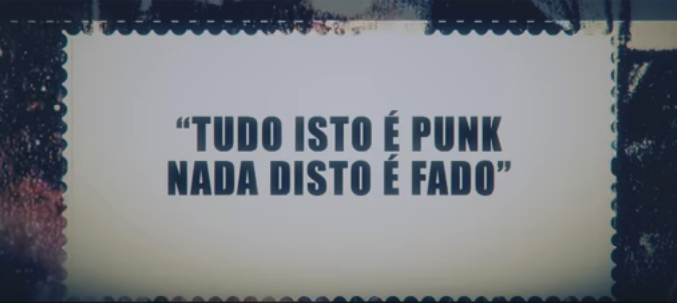
Uma das reivindicações relativa a documentários de música é a de que devem ser lembrados os anónimos ou, pelo menos, aqueles que não eram artistas e editores – mas também os espectadores, os promotores e os meros convivas. Enterrado… traz-nos testemunhos de quem ajudou a construir as bases do desenvolvimento do punk português – de Norte a Sul, Este e Oeste. Os iconoclastas e os fãs assinalados. Desde os contos de olhares de lado em Lisboa (por Rui Teodósio) até bocas no Porto (Óscar Pinho) e incompreensão e repulsa no resto de um País supostamente livre formalmente, mas informalmente preso ao mofo. O preconceito não impediu o crescimento da criatura, bem pelo contrário – era um dos seus combustíveis, o outro a irreprimível curiosidade e vontade de fazer acontecer.
Ao contrário de outras produções, temos um documentário com a banda-sonora certa e de técnica apropriada – tudo devidamente enquadrado e editado, ajudando a suprimir algumas limitações na captação de som de alguns testemunhos. Cada capítulo com seu nome e sua estrutura, que o assunto é sério.
Desmistifique-se que até 1974 não se vivia num regime saudita ou fundamentalista em que não entrava cá música popular nenhuma e não vinha cá um artista estrangeiro que fosse – vinham poucos, mas é melhor do que nada e do que o retrato decrépito do costume. Contudo, o Portugal de oitentas era ainda de curiosidade tímida sobre a liberdade cultural (novamente, não havia censura formal, mas havia preconceito instalado); ecce António Sérgio, o grande divulgador – a sua compilação de punk em vinil terá ajudado à descoberta da luz por muito boa gente por esse Portugal fora, a par de os interrails de amigos servirem de loja de discos.

Deus Adolfo: figura central
Até aqui, falámos já dos membros da cena, de divulgadores de rádio e de membros de bandas tout court. O retrato começa a compor-se, mas eis que Enterrado… traz à baila (ou ao pit) outro aspecto esquecido: os lugares onde o punk português se fez – piadas com casas de banho à parte. Relembramos o Rock Rendez-Vous, a Teia, o Gingão, o Oceano, entre outros. Nada disto foi feito no ar e nada disto saiu primeiro no Spotify ou no Soundcloud (que jeito que dariam estas ferramentas nessa altura).
E, dentro dos lugares, as datas míticas: Belas Artes em 1982 em Lisboa e a Cruz Vermelha no Porto, em 1986. Na primeira apresentaram-se os Mata-Ratos e os Sétima Legião e na segunda foi germinado o hardcore português, via périplo de bandas lisboetas à Invicta. Tudo contado por quem lá esteve, com a banda sonora devida e tudo devidamente situado, ao contrário de outras experiências anteriores sobre o punk nacional.
A (re)descoberta não fica por aqui, contudo. Conim e Newton voltam a insistir sobre as pessoas cujo entusiasmo e amor à (nova) estranha forma de vida definiram o nosso punk; falamos agora de fanzines (autênticas antecessoras do sítio onde estão a ler isto) portuguesas, como a Tosse Convulsa ou a Cadáver Esquisito de Guilherme Lucas, de iniciativas que não concertos, bandas desenhadas em publicações como o “Se7e” os primeiros vídeos – profissionais ou amadores, como “Gingão” dos Peste & Sida ou Mata-Ratos no RRV. Retratam-se (e evocam-se) aqueles que ousaram tingir a roupa, pintar o cabelo de cores berrantes e/ou simplesmente aqueles que quiseram ser eles próprios e os sítios onde o puderam ser e onde a História foi feita.
Também a estética é abordada. Temos, entre outros, Isabel Newton a explicar como era o DIY à portuguesa (ou a indústria caseira dos pins, sem fotocopiadoras), a estampagem de t-shirts num punk sem liquidez disponível e a pintura de casacos. Hilariante o relato da mãe de Miguel Newton, Ana Rodrigues de Sousa, sobre as proibições de brincos e a batalha pela estética que os filhos travaram em casa e na escola. Diz-se, a dada altura, que Portugal era um País com vergonha dos seus filhos – e isto num fenómeno relativamente circunscrito, com poucos (mas bons) fiéis. Caíram na “seita dos panques!!!!!!”.
Nem tudo era cor-de-rosa, porém: a autoridade abusava do poder, achando-se uma espécie de bússola dos costumes. Detenções, fecho de espaços e cancelamento forçado de concertos, com lugares cativos na esquadra do Rego. Assim cresciam as subculturas urbanas em Portugal, pelo meio dos autocarros cor-de-laranja, do metro com menos estações (ou ausência dele, no caso do Porto), de miudagem pendurada nos eléctricos e de não haver estabelecimentos denominados “petiscaria” em zonas de frequência outrora duvidosa.
Certo é que as relações e amizades nasceram, as personagens também – desde Beto de Almada até Ricardo Tenro, de Alvalade – e, por entre a Revisão Constitucional de 1982, mais uma vinda do FMI, a entrada de Portugal na pretensa civilização da CEE e a mediocridade cavaquista, o punk português passou pelos seus melhores anos. Temos descrições de onde tudo aconteceu: Samuel Palitos, Miguel Newton, Isabel Newton, João Pedro Almendra e Rui Teodósio por toda a Grande Lisboa; gente dos Cães Vadios no Porto; Frágil no Porto e em Moncorvo, onde cresceu (Senisga e as cristas que não eram de galos); Jorge Carvalho no Algarve (havia mais para além dos toldos da Olá e de Vilamoura) e Deus Adolfo Luxúria Canibal e Ondina Pires enquanto presenças de fundo, entre outros. Como bem refere o vetusto Jorge Bruto (Emílio e a Tribo do Rum), numa das frases lapidares de Enterrado…: “o punk nasceu com piada. A malta juntava-se e pronto”. Drogas? Poucas; as duras só atingiriam o auge em noventas, o resto era álcool, ganza e carcaças com manteiga da avó de Paula Maia.
A época áurea do punk português foi esta – juntou-se o desenvolvimento à crescente variedade. Raparam-se as cristas e surgiram os primeiros skinheads nacionais (com Guarda de Ferro lá ao fundo, em prenúncio das tragédias que aí viriam), outros para a brilhantina do rockabilly e outros para o hardcore e crossover thrash. Exemplo destas derivas? O monstro Censurados, surgido em finais de oitentas.

Rodrigo “Cobretti” Velez: oráculo da javardice punk.
E broncas? Desde a Alfândega e CTT que não deixaram que Deus Nosso Senhor GG Allin recebesse a sua garrafa de vinho do Porto até às quebras contratuais de João Peste, “o grande oportunista”. Vítor Rua, desta vez vestido, fala-nos de uma consciência punk que não existia na fase original, com explicações mais académicas a cargo do etnomusicólogo Miguel Almeida. Menos vestido mas eloquente é Rodrigo Velez, dos Clockwork Boys [declaração de interesses: em tempos andámos envolvidos na banda] que, em jeito de gingolô do eixo Musgueira-Ajuda, declara que o punk lhe salvou a vida e lhe deu tudo – o seu testemunho um prenúncio de um terceiro volume da série? Cremado na loucura?
Assim se conclui a viagem no tempo. Junta-se a relevância da autoria à competência técnica e temos, pelo menos quanto ao segundo tomo, o retrato definitivo do punk português. Não aceitem imitações nem produtos inferiores e escolham a loucura. Não é cheta por treta, garantimos.
